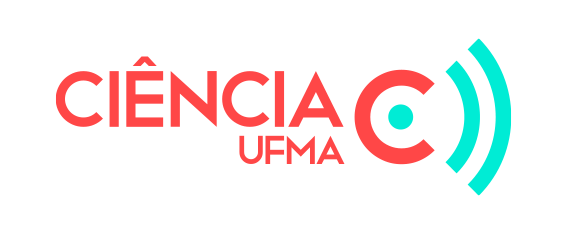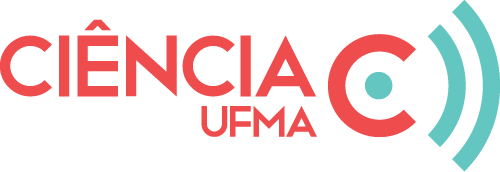Texto e fotos de Yanna Duarte

Alexandre Maciel entrou no mundo do jornalismo, mais especificamente no dos livros-reportagens, ainda criança. Aspirante a escritor e grande elaborador de jornais na infância, leu o primeiro livro de não ficção jornalística aos 12 anos. A obra era a biografia de “Olga”, escrita pelo jornalista Fernando Morais. E que mais tarde seria um dos dez entrevistados da sua tese de doutorado, intitulada “Narradores do Contemporânero: jornalistas escritores e o livro reportagem no Brasil”. Defendida em fevereiro de 2018, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A partir do primeiro livro, ele nunca mais deixou de se aventurar nesse mundo.
Professor efetivo do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo do Campus Imperatriz, escreveu um livro-reportagem como proposta de TCC, chamado “Jardim do Sanatório”. Onde passou seis meses acompanhando o dia-a-dia de pessoas que viviam em um manicômio, em Campo Grande (MS), nunca publicado. Trabalhou em rádio como programador musical de MPB e em redações. Durante seus 15 anos como professor, orientou mais de 20 livros-reportagens. Na sua tese de doutorado, buscou entender o jornalismo de livros, por meio de entrevistas em profundidade. Seu problema de pesquisa buscava compreender o lugar do livro-reportagem no jornalismo brasileiro, a partir da perspectiva dos modelos jornalísticos experimentados pelos seus escritores. Para isso, ele viajou a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Juiz de Fora (MG) para entrevistar dez jornalistas e dois editores. Nomes como Caco Barcellos, Ruy Castro, Zuenir Ventura e Daniela Arbex estão entre eles.
Defensor assíduo do jornalismo de fôlego aprofundado, humanizado e sem pressa, propõe que haja mais espaço nos sites, televisão e rádio pro jornalismo paciente. Que seria feito por uma equipe especial preparada para tratar de temas vividos por nossa sociedade e que necessitam ser mais discutidos, como racismo, pedofilia, a questão da mulher e as várias facetas da homossexualidade. Ele também defende que “é preciso pisar mais no freio e menos no acelerador”. Principalmente porque vivemos em uma era de Fake News e ela se aproveita da nossa pressa como leitor, onde se quer saber tudo rápido. E as pessoas tomam opiniões sem consultar fontes.
Entendendo um pouco do entrevistado, na entrevista abaixo é possível acompanhar algumas opiniões e resultados da pesquisa que Alexandre abordou em sua tese. E como esse gênero de livros-reportagens é visto por leitores, pelos jornalistas que conseguiram um espaço nisso e o grande mercado editorial brasileiro.
Imperatriz Notícia – Você conta na sua tese que aos 12 anos ganhou de presente da sua mãe a biografia de ‘Olga’, de Fernando Morais, e que o relato se mostrou tão vivo que te influenciou a se tornar um jornalista. Você vê isso como um chamado?
Alexandre Maciel – Foi um grande chamado. Minha mãe era historiadora e me presenteou ao ver no curso de história. Olga tinha acabado de sair, acho que era 85, e eu tinha 12 anos. Ela falou, “lê esse livro, é legal”, mas do ponto de vista do historiador. E, quando criança, eu fazia jornalzinho em casa, já tinha um germezinho aí, de querer fazer o curso. Mas eu pensava que ia pra Letras ou algo assim. Então, quando ela me presenteou com o livro, eu vi que o jornalismo não era só aquilo que passava muito rápido na televisão, porque era a geração da TV. Nem era só notícia que mudava toda hora. Podia ser também um olhar sobre a história, um resgate da Olga que era uma personagem que a própria história tinha esquecido. E essa leitura me abriu caminho pra conhecer outros jornalistas escritores. No começo, eu não sabia que aquilo era um livro-reportagem. Então, eu decidi cursar jornalismo no fim do ensino médio. Já estava decidido que queria aquilo e também tinha lido alguns livros de outros jornalistas.

I.N – Você pesquisou no doutorado os narradores do contemporâneo, que são os jornalistas escritores e o livro-reportagem no Brasil, um tipo de jornalismo paciente e aprofundado. É difícil separar o que é pesquisa da relação que se constrói com os entrevistados?
A.M – São meus ídolos, né. Zuenir Ventura, Fernando Morais, Ruy Castro . Eu sempre tive muita admiração e até medo deles. Mas foi impressão de primeiros minutos. Depois, você via que eram seres humanos como a gente. Muito simpáticos, no geral. E eu senti que eles estavam abertos a falar, porque quando saem os livros eles são bastante entrevistados a respeito dos personagens que escreveram. Tipo, “quem era Getúlio Vargas?”, mas pouca gente pergunta a eles como pesquisaram isso, como foi por trás das entrevistas. Porque isso aí é um interesse nosso, do jornalista.
I.N – Há público no Brasil para os livros-reportagens? Ou seria apenas os interessados em jornalismo que leem?
A.M – Há público. A Daniela Arbex, por exemplo, que é uma jornalista lá do interior de Minas Gerais, trabalhava num jornal local, nem regional, e lançou “Holocausto Brasileiro”, um verdadeiro genocídio que aconteceu num manicômio lá de Barbacena . Ela achava que aquilo não ia ter repercussão, mas recebeu opiniões de pessoas do Brasil inteiro. E hoje, o escritor, com as redes sociais, trava um contato mais direto com o público. Quando eu fui jornalista de redação era difícil o leitor falar com a gente. Ele só ligava pra reclamar. Hoje, o escritor vai nas feiras literárias, nas universidades ou nas redes sociais e consegue ter um feedback, uma resposta de seus leitores que os ajudam a se tornar melhores escritores. Então, tem público sim, se não as editoras não estavam apostando nisso. Eu entrevistei editores, como o Otávio Costa, e ele disse que mesmo em crise no mercado editorial, fechando muitas livrarias no interior do Brasil, o livro de não ficção jornalística desperta a atenção das pessoas.
I.N – O mercado brasileiro de livros de não ficção jornalística tem obras preciosas escritas por profissionais de destaque. É possível publicar um livro-reportagem sem ser um nome renomado no mercado?
A.M – Isso é algo que eu pretendo pesquisar agora. Foi uma coisa que me perguntaram na banca “mas você só falou com os caras famosos, aí é fácil e tal”, e eu falei não. Como ninguém tinha falado com ninguém antes, só tinham sido publicadas teses que analisavam o que é o livro reportagem, o que é a biografia, ou seja, teses teóricas. Eu falei: “bom, eu vou ser o primeiro a ouvir, então, vou falar primeiro com os caras grandes”. Uma vez escutado esses caras, a gente tem uma percepção do mercado. E a vida não é fácil pros nomes famosos, também. Inclusive pro Laurentino Gomes que vendeu 2 milhões de exemplares com a trilogia “1808”. Se ele parar de escrever, vai ficar esquecido. Então, esses caras não param. Eles trabalham demais. Agora me interessa descobrir quem está além dessa camada de superior do jornalismo.
I.N – Você acha que os livros se perdem um pouco quando são reimpressos, quando tem várias edições?
A.M – Não, não acho que se perdem. Livros que conseguem isso são raros, né. A maior parte das pessoas que publicam livros fica em uma edição, entendeu? É que esses que eu estudei tiveram a felicidade de ter seus livros reimpressos. É bom pensar duas coisas na sua pergunta. Primeiro, por que esses livros conseguiram ter reedições? Porque eles tratam de temas tão palpitantes que o tempo passa e continuam interessantes. Vamos supor, “1968: o ano que não terminou” que foi escrito em 1988. Na época, o Zuenir já pensava que o livro não teria interesse pros jovens. Eram 20 anos depois mas tudo aquilo que foi pensado no ano de 68, foi absorvido por aquele leitor de 1988. Ele queria entender aquilo pra entender o ano em que vivia. Tanto que, agora, em 2018, o livro tá sendo relançado. Faz 50 anos que aconteceu e o tema continua sendo interessante. Eu acho que tudo engrandece a gente como cidadão. Ler um livro reportagem tem uma função educativa, também. Então, ele não perde sua validade. Alguns temas precisam ser repensados e serem lançados novos olhares. Mas, certos livros, eles ficam lá . Continuam sendo reeditados e despertam interesse. E nem os escritores sabem o porquê. A resposta tá com o público.
I.N – Quem sofre mais por um espaço no mercado editorial, as biografias ou livros-reportagens?
A.M – Quem mais tem espaço e leitores são os biógrafos. Por que será? Porque o biógrafo sai com uma vantagem. Ele já está falando de um personagem que as pessoas, independentemente do autor, gostam, têm interesse. Então, você quer ler a biografia da Elis Regina, às vezes nem sabe o nome do autor. Muitas vezes a pessoa é atraída pelo personagem e não tanto pelo escritor.
I.N – O que tem de tão singular na rotina produtiva de um livro-reportagem que difere na rotina produtiva de uma redação?
A.M – Você tem mais tempo pra produzir. Uns dois, três anos. Tem aquela segurança. Às vezes você recebe uma verba das editoras pra pesquisar. advance, uma previsão do que você vai vender e recebe uma porcentagem disso. O jornalista pode conseguir fazer parcerias e apoios, firmar contratos com empresas de cinema pra adaptação da obra e não tem um editor te apressando. Mas as pressões internas são bem maiores. Alguns têm pesadelos, ficam angustiados se perguntando se darão conta, o que vão dizer de diferente. O medo de ser furado existe também, de chegar um jornalista de surpresa e dizer o que eu já estou dizendo. E tem que ter uma adequação de páginas. Você não está protegido por uma instituição, é você e o leitor. É o mundo editorial e não o jornalístico. Mas você ainda está fazendo jornalismo, só que com condições diferentes. Pode beber da literatura, da história, da antropologia, mas é jornalismo.
I.N – De que maneira a literatura de ficção influenciou no modo de escrita em um livro-reportagem?
A.M – Muito. Porque todos eles são leitores . A literatura brasileira era feita por pessoas que trabalhavam em jornais. Euclides da Cunha, Jorge Amado, Graciliano Ramos… “Vidas Secas”, por exemplo, é quase uma reportagem. “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, é quase uma reportagem. “Os Sertões”, também é fruto de uma. Eles queriam ser repórteres, na verdade. Não é tanto a gente com eles. E depois formou-se aquela ideia “eu sou o escritor” e “você é jornalista”. Criou-se uma separação. Esse distanciamento não é muito bom. Acho que a gente aprende com a literatura, podemos aprender a narrar como ela, de forma agradável. E a literatura aprende com o jornalismo ao olhar a realidade, fazer pesquisa de campo, ir atrás do material, das entrevistas.
I.N – Qual a melhor reportagem, aquela em que o repórter busca com afinco a objetividade ou aquela em que ele reconhece na sua interferência um fator necessário?
A.M – Eu acho que tem que dosar isso. A objetividade não deve ser o fim. Ela é um método. Então, é preciso procurar equilibrar os fatos, que é a chamada imparcialidade. Procurar dar voz não só pros dois lados, mas para vários lados. Tudo isso é um método. Objetividade tem que ser entendida como uma forma de ação, não como resultado final. Porque como resultado final ela é quase impossível, já que somos seres humanos. Quando você entrevista as pessoas e nós lidamos com discursos, o jornalista ouve as pessoas e elas dizem suas respectivas visões sobre um fato ou personagem que você está pesquisando. E cada um que está falando sobre aquele fato histórico já está fazendo seu filtro pessoal, já entra a subjetividade. Aí você atua como um maestro, fica orquestrando aquelas vozes. E na hora de orquestrar as vozes, cada jornalista vai fazer isso de um jeito diferente. Só com esse exemplo a gente consegue perceber que buscar uma objetividade pura e simples, nem a ciência procura mais.
I.N – Como você vê a produção de livros-reportagens no nosso curso?
A.M – Nesses 12 anos de curso são mais de dez livros. E agora vamos retomar, outros professores estão orientando também. Não só eu. Isso é importante, que o máximo de professores comecem a se interessar por isso e que a gente comece a trazer pra banca, porque o livro-reportagem feito em Imperatriz vai fazer uma coisa importantíssima que é narrar a cidade pouco narrada. Então, quanto mais a gente tratar dos temas, dos personagens locais, estaremos contribuindo para um olhar sobre a cidade. Me orgulho muito de ter orientado alguns como a história do teatro ou da primeira rua em Imperatriz. Pra mim, foi um grande aprendizado sobre a cidade. E eu acho que tem muita história pra ser contada ainda, não só no produto livro, mas em outros tipos, como documentário ou uma grande reportagem multimídia.